A França está sozinha?
Zaki Laidi
![]() Em menos de dois anos, a França realizou três intervenções militares externas decisivas. Em março de 2011, seus ataques aéreos na Líbia (juntamente com os do Reino Unido) cercearam as tropas do coronel Muamar Gadafi quando se preparavam para retomar a cidade de Benghazi. Um mês depois, forças francesas na Costa do Marfim prenderam o presidente Laurent Gbagbo, que se recusara a reconhecer a vitória eleitoral de seu adversário, submetendo o país ao risco de uma guerra civil. Agora a França interveio no Mali.
Em menos de dois anos, a França realizou três intervenções militares externas decisivas. Em março de 2011, seus ataques aéreos na Líbia (juntamente com os do Reino Unido) cercearam as tropas do coronel Muamar Gadafi quando se preparavam para retomar a cidade de Benghazi. Um mês depois, forças francesas na Costa do Marfim prenderam o presidente Laurent Gbagbo, que se recusara a reconhecer a vitória eleitoral de seu adversário, submetendo o país ao risco de uma guerra civil. Agora a França interveio no Mali.
Esta mais recente intervenção foi inicialmente planejada como parte de uma missão europeia de apoio às forças africanas, mas a França decidiu agir de forma unilateral para tolher o avanço de islamitas que ameaçavam invadir Mopti, a última barreira antes de chegar à capital, Bamako. Além disso, a França quer proteger seus cidadãos instalados na região, manter a estabilidade no Sahel [o semiárido africano ao sul do Sahara], que abriga governos muito fracos, e impedir a transformação do Mali numa base do terrorismo islâmico voltada para a Europa.
Muita coisa está em jogo – ainda mais porque a intervenção da França tende a ser ampla. Embora os islamitas tenham sido temporariamente derrotados, estão bem armados e recebem suprimentos da Líbia via Argélia, que reprimiu os islamitas em seu país mas parece fazer vista grossa a seu trânsito por seu território. Além disso, o potencial do exército malinês e o de outros países da África Ocidental que deverão se integrar à operação é pequeno demais para mudar as coisas. Os Estados Unidos tentaram dar treinamento ao exército malinês, mas fracassaram fragorosamente.
Os europeus relutam em desenvolver um aparato militar significativo porque o seu projeto foi criado em contraposição à ideia de força. Mas essa postura se tornou indefensável. A região se defronta com ameaças reais, que Paris sozinha não consegue deter
Com a segurança da Europa como um todo em jogo, por que a França é o único país envolvido?
Uma das explicações é encarar a intervenção como uma tentativa neocolonialista de proteger uma seara francesa. Esse é um erro crasso. A França não tem interesse em proteger um regime malinês que sabe ser corrupto e incompetente; na verdade, a França se recusou recentemente a apoiar uma solicitação do regime do presidente François Bozizé na vizinha República Centro-Africana de ajuda no enfrentamento dos rebeldes.
As motivações da França são mais amplas. Em especial, a França sempre considerou a África Subsaariana e o mundo árabe esferas naturais de influência política e estratégica necessárias para manter sua posição de uma das potências mundiais.
A segunda explicação é mais convincente: a França, além da Grã-Bretanha, é a única verdadeira potência militar europeia. Ela acha que um aparato militar operacional é condição do poder – opinião não compartilhada pela esmagadora maioria dos governos europeus, que continua a exibir uma aversão coletiva à guerra.
A Europa, sem dúvida, dispõe de meios para uma ação conjunta. Em 2003, após o início da Guerra do Iraque, a Europa abraçou uma estratégia preparada por Javier Solana, na época o alto representante da União Europeia (UE) de Política Externa e de Segurança Conjuntas. Mas, embora um grande número de europeus tenha ingenuamente acreditado que a proposta seria o prelúdio de uma estratégia europeia conjunta, ela foi preliminarmente formulada em termos tão vagos que permitiam qualquer – ou nenhum – resultado.
O Tratado de Lisboa da UE faz menção a “cooperação estruturada permanente” em política de segurança e de defesa, e existe todo um aparato de comissões políticas e militares para prever, preparar e implementar operações militares em nível europeu. Mas esse mecanismo é desprovido da vontade política conjunta necessária para ativá-lo; quanto menos for utilizado, menos utilizável se tornará.
Durante a crise da Líbia, a sucessora de Solana, Catherine Ashton, procurou restringir o papel da UE ao de uma super-ONG focada em ajuda humanitária e desenvolvimento econômico. Recentemente, na votação sobre a representação palestina na ONU, a UE recomendou a abstenção a seus membros – estranha maneira de afirmar o compromisso da Europa com a liderança mundial.
Para a Grã-Bretanha a defesa em âmbito europeu é um projeto fadado ao fracasso. A Grã-Bretanha se desviou desse princípio uma única vez, quando concordou em participar da operação antipirataria Atalante ao largo do Chifre da África – provavelmente por ter sido posta no comando. Em decorrência disso, os que querem um aparato de defesa europeu conjunto não têm meios de criá-lo, enquanto os que têm os meios de criá-lo não o querem (com a possível exceção da França).
A cooperação bilateral da Grã-Bretanha com a França – posta em destaque durante a crise da Líbia – é, às vezes, muito sólida. Mas, apesar do tratado de cooperação nas áreas de defesa e segurança entre os dois países, firmado em 2010, os britânicos decidiram, por motivos orçamentários, adquirir aviões incompatíveis com os porta-aviões franceses.
Mesmo Espanha e Itália, os dois países mais afetados pelos últimos acontecimentos no Mediterrâneo e no Sahel, reduziram significativamente seus gastos militares. Ao contrário da Alemanha, ambos os países participaram da intervenção na Líbia, mas com regras altamente restritivas de envolvimento para suas forças. A força naval italiana, por exemplo, foi orientada a evitar as águas ao largo da costa de Trípoli, e os aviões-tanque espanhóis foram proibidos de reabastecer caças.
A Europa como um todo dedica atualmente apenas 1,6% de seu Produto Interno Bruto (PIB) à defesa, comparativamente aos 4,8% destinados pelos EUA a esse fim. Ela se constitui na única região do mundo em que os gastos militares estão diminuindo. Suas forças de prontidão são extremamente reduzidas, respondendo por 4% de todo o efetivo militar mundial, contra os 14% dos EUA. A cooperação industrial, que poderia constituir um fator positivo do ponto de vista econômico e militar, também está enfraquecendo, como ficou demonstrado pela bem-sucedida oposição da Alemanha à pretendida fusão Eads-BAE, oficialmente cancelada em outubro.
A Alemanha tinha dado a impressão de ter abraçado uma política mais sólida desde sua participação nas operações militares no Afeganistão. Atualmente, no entanto, ela recua diante de qualquer perspectiva de intervenção militar, apesar de ser o terceiro maior exportador mundial de armas.
A Europa reluta em desenvolver um aparato militar significativo porque o projeto europeu foi criado em contraposição à ideia de força. Mas essa postura se tornou indefensável. A Europa se defronta com ameaças reais, que a França sozinha não consegue deter. Além disso, o sistema internacional se aglutina cada vez mais em torno de potências nacionais que consideram a força militar um pré-requisito essencial da influência. A Europa não tem opção entre poder brando e poder duro. Precisa associar os dois se quiser sobreviver. (Tradução de Rachel Warszawski)
Zaki Laïdi é professor do Institute d”études politiques de Paris (Sciences Po). Copyright: Project Syndicate, 2013.
FONTE: Valor Econômico via Resenha do Exército


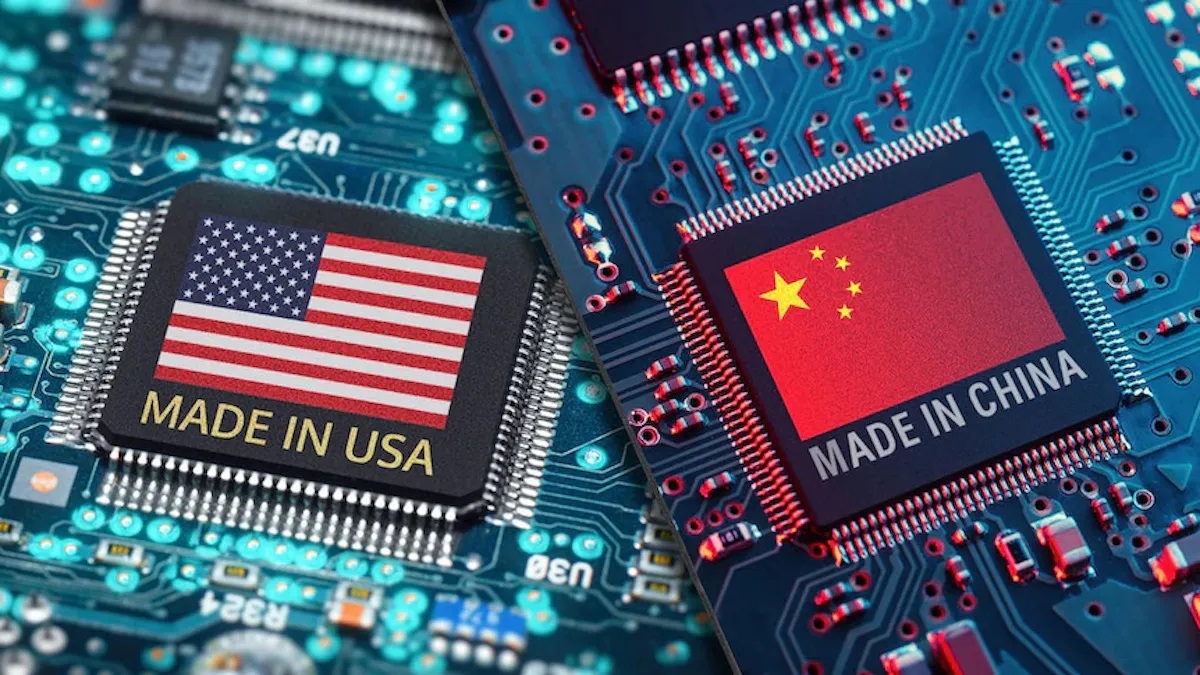


Bom, quando começou este oba-oba da primavera árabe, eu falei que a Europa e os EUA não sabiam quem estavam ajudando. Olha aí o resultado.
Como aconteceu no Irã, os radicais trataram de se apossar do movimento popular, conseguindo chegar ao poder em vários países. Apenas se substituiu ditaduras laicas por ditaduras religiosas.
Quando parecia que ia começar naquele continente um período de maior estabilidade, permitindo a alguns países daquele continente darem um salto para a frente, um novo elemento desestabilizador entra em ação.
A verdade é que os governos que substituíram as ditaduras no Norte da África são formados parcial ou totalmente por radicais islãmicos, que agora dão apoio e recursos para que os terroristas levem a “verdadeira palavra do profeta” (verdadeira para eles) cada vez mais para o sul daquele continente.
Agora, além dos cristãos e animistas (religiões nativas) de lá estarem correndo perigo, até mesmo os muçulmanos moderados sentirão o peso da Sharia.
Pobre África.